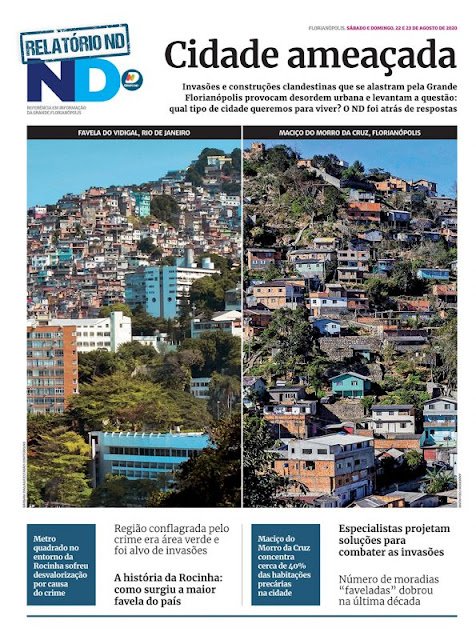|
| Divulgação |
Míriam
Santini de Abreu
As
luzes se acenderam sobre o picadeiro às 20h30 de sábado (4). Ao fim da contagem
regressiva, entraram os palhaços. Com eles, iniciava-se o primeiro espetáculo
virtual do Circo Rakmer em sua primeira visita a São José e Florianópolis (SC).
Chegou e não pôde partir. Em 5 de março, a estrutura na frente do shopping
Itaguaçu estava pronta para a estreia. Mas, depois de menos de duas semanas de
shows e nem 500 pessoas, veio a ordem de quarentena e foi preciso parar. Aí, em
meio à angústia sobre o rumo a tomar – e o da estrada era impossível – apareceu
a ideia de levar a arte ao público por meio dos caminhos digitais.
Desde
31 de março, o convite aparecia nas redes sociais. O circo precisava de doações para se manter! No sábado, o apresentador Mário Motta, nascido, com o irmão Gilberto – também jornalista –, no Circo dos pais, Motinha e Nhá Fia, divulgou o pedido de doação de R$ 5,00. Ao longo da
tarde, em grupos de WhatsApp, amigos convidados para conversas virtuais
respondiam: – Só depois das dez da noite, porque às oito e meia vou ao circo!
E, como se viu mais tarde pelos comentários nas redes sociais, teve quem fez
isso depois de muito tempo ou pela primeira vez.
A
live foi transmitida pelas contas do Circo no Facebook e no Instagram. Pouco antes do início, os palhaços Poteto e
Espoleta transmitiram ao vivo o making of da maquiagem. No Instagram, a estreia
teve um toque ainda mais divertido. Uma parte da plateia virtual não parava de
postar elogios e dar curtidas; outra pedia: – Desativa os comentários! As palmas, corações e beijinhos, explodindo
ao toque no smartphone, subiam tela acima sem parar, frisson virtual a
substituir o calor das cadeiras vazias em volta do picadeiro.
 |
| Live no Instagram |
Foi
preciso improvisar, movimentar o celular no meio da live, lidar com o limite de
uma hora de transmissão ao vivo do Instagram, driblar as atrações protegidas por direitos autorais, direcionadas às crianças depois da proibição de uso de animais em circos. Mas o gigante King Kong apareceu! No Instagram, a live atraiu cerca
de 2.500 pessoas. No Facebook, em torno de 5 mil, e mais 4,9 mil na live de uma
influencer. Acudiram pessoas de vários estados do país e até do exterior. “As
doações vão ajudar a gente a se manter por um bom tempo”, diz, agradecido, o
proprietário e apresentador do circo, Jeferson Rakmer, de 54 anos.
***
Jeferson
nasceu em Franca, no interior de São Paulo, em família circense, com ela se
apresentando no Circo de Moscou. Em 1985, em apuros financeiros, fez contato
com o empresário João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero, que viria a
inaugurar em 1991 o parque multitemático em Penha, litoral catarinense.
Integrado ao Mundo Mágico de Beto Carrero, precursor do parque, Jeferson ali
permaneceu por 22 anos. Com o Circo Rakmer, iniciado em 2008, já vão outros
12. Hoje apresentador, Jeferson já foi palhaço, trapezista, adestrador: “Quem
nasce em circo aprende de tudo e vai definindo o que quer fazer”.
Nas
andanças com o circo, ele já viveu tanta coisa que os amigos dizem: – Fuça, faz
um livro! O apelido nasceu de “Jefersonzinho” virado em “Jefucinho” e encurtado
pra Fuça, e Fuça pegou. O fato de parte da família hoje morar em Manaus é uma
dessas histórias. Era 1976 e o circo da família foi se apresentar naquela
capital e cidades próximas. Nessas andanças por estradas marinhas, um dia a
balsa entre Manaus e Belém quebrou e os Rakmer ficaram seis dias parados na
beira do Rio Amazonas.
Agora,
mais uma história vai para o livro. Quando a quarentena contra o coronavírus
interrompeu o espetáculo em São José, Jeferson conversou com a família para
sugerir o retorno a Manaus, onde moram dois irmãos, mas como pagar a passagem
de 2, 3 mil reais? “Resolveram ficar aqui, a casa deles é aqui, no circo,
ficaram todos sob as asas da gente, eles não têm mais vínculos com Manaus”, diz
ele, que atua no Circo Rakmer com a mulher, cinco filhos, o genro e o neto. No
total, são 45 pessoas, entre as quais 10 crianças. Decididos por ficar, foi
preciso buscar saídas para contornar o fim dos espetáculos: “Fomos pegos de
calças curtas. Atividades como a nossa a gente sabe que não vão liberar tão
cedo. Somos os primeiros a parar e os últimos a voltar”.
A
preocupação é ainda maior pelo desencontro de informações entre os diferentes
níveis de governo, o municipal, o estadual e o federal. Fica difícil saber em
quem confiar para tomar uma decisão. O temor piora porque, apesar de o circo
ter um patrimônio, como os 12 trailers e ônibus, não há como fazer negócios em
meio às restrições impostas para o combate ao vírus. Mas, com o passar dos
dias, a ajuda para o sustento começou a chegar. A prefeitura de São José doou
cestas básicas. O shopping permitiu que o circo, com capacidade para 900
lugares e cuja área foi alugada por um mês, ficasse armado sem pagar aluguel.
“Nos trataram com dignidade”, ressalta Jeferson, ao mencionar que sabe de
outros circos Brasil afora impedidos de entrar nas cidades e agora parados em
postos de gasolina.
Sem
estrutura montada, os artistas não podem ensaiar ou treinar, algo rotineiro para
quem precisa se balançar em trapézios, jogar malabares, girar sobre motocicletas
no Globo da Morte: “Nossa arte precisa de movimento”. Ele cita como exemplo
também a situação do conhecido Cirque du Soleil, que cancelou apresentações e
demitiu gente. E, por ora, será difícil encontrar trabalho em outro lugar.
Jeferson explica que os artistas trabalham como microempreendedores individuais
(MEI) e há constante movimentação de um circo para outro, especialmente entre
aqueles que fazem acrobacias no Globo da Morte, atração muito disputada.
Os circos do Brasil, calcula Jeferson, têm uma média de 40 a 50 pessoas cada para divertir o público, mas é uma arte pouco lembrada nos discursos oficiais. O proprietário do Circo Rakmer fica com a voz embargada ao
mencionar esse esquecimento: “A gente não é indigente! A gente entende todas as
artes e vê que muitos programas de auditório usam o circo, as acrobacias, os
malabares, mas é a música, é o teatro, que são considerados arte. Nós nos
sentimos banidos, largados. Os circos são largados ao relento”.
Um
exemplo do esquecimento está na ausência de linhas de crédito específicas e na
forma como são montadas as políticas públicas na área de cultura. O CNPJ do
Circo Rakmer é de São Paulo, mas os espetáculos são itinerantes. Então, fica
difícil concorrer tanto nos editais de São Paulo quanto em qualquer outro
estado ou município que estimule produções locais: “Os circos são muito
espalhados e não temos como acompanhar os projetos de lei. Há muita burocracia,
cada cidade pede uma coisa diferente. Pagamos os alvarás, os impostos. Agora estamos caminhando para nos organizar e formar uma associação. É preciso entender que o
circo é itinerante, mas também rotineiro”. Em Santa Catarina, por exemplo, o
Circo Rakmer já circula há dois anos.
Jeferson
lembra que grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Lima Duarte e Ary
Fontoura, passaram pelo circo. Para ele, o circo deve ser pensado como a mãe
das artes e arte circense do Brasil, patrimônio cultural imaterial do país.
Esse reconhecimento foi uma das principais reivindicações do 2º Congresso
Sul-Americano de Circo, realizado em dezembro passado, em Campinas, São Paulo.
Na primeira edição do Congresso, no Chile, o país-sede reconheceu o circo como
patrimônio imaterial. Há, nessa arte milenar, com raízes nos artistas
saltimbancos da Idade Média, patrimônio material concreto. Os circos
sul-americanos empregam cerca de 50 mil pessoas, entre artistas, técnicos e
outros colaboradores.
***
Nesses
tempos urgentes de invenção, o Circo Rakmer avisa ao público que domingo que
vem tem mais. Parte dos frequentadores virtuais disse que o horário das 20h30 é tarde para as
crianças e assim o próximo será às 19h30. Jeferson afirma que, nas lives de
sábado, foi grande a emoção dos artistas com o espetáculo: “As pessoas estão tristes, só veem
coisas duras, estão desnorteadas, sem saber o que vai acontecer”. Por isso, foi
um desafio fazer em uma hora de live um espetáculo que, presencial, tem 1 hora e 40 minutos.
Todos queriam se apresentar!
***
Naquela
uma hora, rindo à beça, eu compreendi porque, no magnífico filme "O Sétimo
Selo", de Ingmar Bergman, só se salva da peste e da morte a família de
artistas.